
Joaquim Melro
Joaquim Melro é licenciado em Filosofia, Mestre e Doutor em Educação. Foi bolseiro da FCT e do Ministério da Educação, desenvolvendo a sua tese de Doutoramento sobre inclusão de estudantes adultos surdos em escolas do ensino regular, no ensino noturno, dando continuidade à investigação que tem vindo a desenvolver em prol da valorização das comunidades surdas, dando-lhes poder e voz. Tem publicações nas áreas da Filosofia e do seu ensino, das construções identitárias, das interações sociais e da educação inclusiva, particularmente na educação de surdos.É associado da Associação Portuguesa de Surdos (APS), onde frequentou cursos de Língua Gestual Portuguesa. Fez parte dos corpos dirigentes da Associação de Famílias e Amigos dos Surdos (AFAS). Atualmente faz parte dos órgãos sociais da APCEP - Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente.
Supervisors: Margarida César
Supervisors: Margarida César
less
Related Authors
Judith L Green
University of California, Santa Barbara
E. Wayne Ross
University of British Columbia
Beth Ferri
Syracuse University
David J Connor
Hunter College
Jessica Scott
Georgia State University
Joseph Murray
Gallaudet University
James McLeskey
University of Florida
Nasser Mansour
University of Exeter
Federico Waitoller
University of Illinois at Chicago
Michael E Skyer, PhD
University of Tennessee Knoxville
InterestsView All (7)



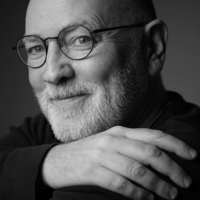






Uploads
Papers by Joaquim Melro
Crossref
MELRO, J. Educação inclusiva de surdos: o tempo dos professores, O Tempo dos Professores.
L. G. Correia, R. C. Leão & S. Poças (Orgs.), Porto: CIIE - Centro de Investigação e Intervenção
Educativas (CIIE) Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do
Porto (FPCEUP), 2017b, pp. 1111-1133. Disponível em
[https://www.fpce.up.pt/otempodosprofessores/O_Tempo_dos_Professores_monografia_LGC_R
L_SP_CIIE_2017.pdf]. Acesso em jul. 12 2020
para surdos adultos (EISA), os professores
desempenham um papel crucial. Urge capacitá-los
para que possam desenvolver práticas inclusivas e
interculturais, valorizadoras dos surdos e das culturas
em que participam – as surdas e as ouvintes.
Assumindo uma abordagem interpretativa e
focando-nos nas vozes dos professores, discutimos a
complexidade epistemológica, educativa e cultural
que configura, para muitos professores de surdos, por
em prática os princípios que iluminam a EISA.
Muitos episódios revelam a urgência da Escola
afirmar os professores como agentes de
inclusividade, ultrapassando dificuldades
vivenciadas e assumindo a inclusão como
elemento-chave do empowerment dos surdos.
Palavras clave: educação de adultos, surdos,
inclusão, professores, empowerment.
nacionais e internacionais, assumindo particular importância na vida escolar e pessoal dos
alunos em condição de necessidades educativas especiais. Contudo, as práticas iluminam
que a Escola nem sempre promove as mudanças necessárias à efectivação desses ideais,
evitando, assim, a exclusão escolar e social. Urge que os professores, elementos-chave da
efectivação da educação inclusiva, promovam uma cultura profissional mais colaborativa e
reflexiva, de modo a responderem adequadamente à diversidade dos alunos. Pretendemos
discutir os resultados de uma investigação realizada numa escola secundária de Lisboa, que
inclui uma comunidade de alunos surdos adultos, do ensino secundário (n= 8, frequentando
do 10º ao 12º anos de escolaridade). Baseando-nos em estudos de caso, os participantes
em que nos centramos são os professores. Os resultados iluminam um fosso entre os ideais e
as práticas, pondo em evidência as fragilidades em assegurarmos um dos pilares da
educação inclusiva: a implementação de uma cultura profissional colaborativa, capaz de
tornar a educação de e para todos uma vivência possível.
educativa, nacionais e internacionais. Assim, à Escola, se colocam novos desafios:
Educar na e para a diversidade; Educar na e para a pluriculturalidade. Contudo, passar
dos ideais às práticas nem sempre se tem revelado uma tarefa simples. Esta
complexidade acentua-se quando a Escola tem de educar alunos em condição de
Necessidades Educativas Especiais. Pertencendo a culturas minoritárias, como a
cultura surda, apresentam mundivisões diferentes, nem sempre tidas em conta nas
práticas educacionais. Falantes de uma língua materna minoritária (LGP) vêem-se
confrontados com barreiras linguísticas próprias de quem é ensinado numa segunda
língua e, por consequência, com barreiras epistemognoseológicas que pouco parecem
favorecer as suas aprendizagens académicas e a sua inclusão na sociedade de que
fazem parte, porque maioritariamente ouvinte. Pretendemos discutir os resultados de
uma investigação em curso, numa escola secundária de Lisboa, que inclui uma
comunidade de alunos adultos surdos, frequentando o ensino recorrente nocturno.
Assumindo uma metodologia de estudos de caso, inserida no paradigma
interpretativo, apresentaremos dois casos que nos permitem compreender até que
ponto, para estes alunos, a mediação da linguagem oral e da cultura de escola se revela
constrangedora do seu dizer, do seu agir e do seu sentir, porque feita numa língua que
não a sua. Estes resultados levam-nos a questionar em que medida a educação, ao
invés de evidenciar a riqueza das diferenças culturais, insiste em adoptar a
homogeneidade generalizada e inquestionável de um determinado modelo cultural
como único e referência para os demais.
por documentos de política educativa (ME, 2008), sublinhando a necessidade de
garantir equidade no acesso a uma educação de qualidade (César & Ainscow, 2006).
Estes princípios assumem particular importância para os estudantes adultos surdos,
que precocemente abandonaram a Escola e a ela regressaram para (re)construir
projectos académicos e profissionais. São disso exemplo os que frequentam o ensino
secundário recorrente noturno. Contudo, passar dos princípios às práticas revela-se
complexo. Participantes de uma cultura e falantes de uma língua (Língua Gestual
Portuguesa - LGP) minoritárias, muitos dos estudantes adultos surdos continuam a
experienciar barreiras ao acesso ao sucesso escolar e social (Melro, 2014; Melro &
César, 2009, 2012, 2013). Focamo-nos nos processos de inclusão destes estudantes
(N=11) no ensino secundário recorrente noturno, numa escola pública de Lisboa.
Assumimos uma abordagem interpretativa (Denzin & Lincoln, 1998) e um design de
estudo de caso intrínseco (Stake, 1995/2005). Os participantes são aqueles
estudantes, os pares ouvintes (N=6), os professores e outros agentes educativos
significativos (N=47), bem como o investigador, enquanto observador participante. Osinstrumentos de recolha de dados são: questionários, tarefas de inspiração projectiva,
entrevistas, observação participante, recolha documental e conversas informais.
Recorremos a uma análise de conteúdo narrativa (Clandinin & Connelly, 1998),
fazendo emergir categorias indutivas de análise. Os resultados iluminam a
necessidade de as escolas valorizarem a diversidade, nomeadamente as
características dos estudantes adultos surdos, assumindo sustentadamente a inclusão
como elemento-chave do seu empowerment, individual e social.
Melro, J. (2014). DO GESTO À VOZ: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A INCLUSÃO DE ESTUDANTES SURDOS NO ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE NOTURNO (Tese de doutroamento, documento policopiado). Lisboa: Universidade de Lisboa.
(Doctoral Thesis presented to University of Lisbon)
Inclusive education (IE) is a main topic in Portuguese policy documents (ME,2008). According to it, all students should experience equity in their access to a quality education (César & Ainscow, 2006). These principles are particularly important for adult Deaf students who are attending the evening classes at mainstream schools in order to get a second chance education. After an early school dropout, their return to school is seen
as an opportunity to have a better educational and professional future. However, putting principles into practice is a complex process. As they participate in minority culture and use a different language (Portuguese Sign Language - PSL), some adult Deaf students continue experiencing barriers to their access to school and social achievement (Melro &
César, 2009a, 2012, 2013).
We focus on the inclusion processes of adult Deaf students (N=11) who were getting a second chance education at a public mainstream secondary school in Lisbon. We assume an interpretative approach (Denzin, 2000) and developed an intrinsic case study (Stake, 1995/2005). The participants were the aforementioned students, their hearing classmates (N=6), their teachers, other significant educational agents (N=44), and
the researcher, who acted as participant observer. Data collecting instruments included questionnaires, tasks inspired by projective techniques, interviews, observation, documents and informal conversations. Data were treated through a narrative content analysis (Clandinin & Connelly, 1998), from which inductive categories emerged.
The empirical evidences illuminate that: (1) some forms of negative discrimination and barriers in the Deaf life trajectories of participation (LTP); (2) the differences and similarities between these LTP and those of these hearing students; and
(3) the need for the school to assert itself as an inclusive and intercultural space/time, developing organizational, supervising and pedagogical processes that value the sociocultural diversity of Deaf adult students and treating inclusion as a key element of their empowerment.
Keywords: Inclusive education; diversity; Deaf; supervision; recurrent education;
empowerment.
Crossref
MELRO, J. Educação inclusiva de surdos: o tempo dos professores, O Tempo dos Professores.
L. G. Correia, R. C. Leão & S. Poças (Orgs.), Porto: CIIE - Centro de Investigação e Intervenção
Educativas (CIIE) Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do
Porto (FPCEUP), 2017b, pp. 1111-1133. Disponível em
[https://www.fpce.up.pt/otempodosprofessores/O_Tempo_dos_Professores_monografia_LGC_R
L_SP_CIIE_2017.pdf]. Acesso em jul. 12 2020
para surdos adultos (EISA), os professores
desempenham um papel crucial. Urge capacitá-los
para que possam desenvolver práticas inclusivas e
interculturais, valorizadoras dos surdos e das culturas
em que participam – as surdas e as ouvintes.
Assumindo uma abordagem interpretativa e
focando-nos nas vozes dos professores, discutimos a
complexidade epistemológica, educativa e cultural
que configura, para muitos professores de surdos, por
em prática os princípios que iluminam a EISA.
Muitos episódios revelam a urgência da Escola
afirmar os professores como agentes de
inclusividade, ultrapassando dificuldades
vivenciadas e assumindo a inclusão como
elemento-chave do empowerment dos surdos.
Palavras clave: educação de adultos, surdos,
inclusão, professores, empowerment.
nacionais e internacionais, assumindo particular importância na vida escolar e pessoal dos
alunos em condição de necessidades educativas especiais. Contudo, as práticas iluminam
que a Escola nem sempre promove as mudanças necessárias à efectivação desses ideais,
evitando, assim, a exclusão escolar e social. Urge que os professores, elementos-chave da
efectivação da educação inclusiva, promovam uma cultura profissional mais colaborativa e
reflexiva, de modo a responderem adequadamente à diversidade dos alunos. Pretendemos
discutir os resultados de uma investigação realizada numa escola secundária de Lisboa, que
inclui uma comunidade de alunos surdos adultos, do ensino secundário (n= 8, frequentando
do 10º ao 12º anos de escolaridade). Baseando-nos em estudos de caso, os participantes
em que nos centramos são os professores. Os resultados iluminam um fosso entre os ideais e
as práticas, pondo em evidência as fragilidades em assegurarmos um dos pilares da
educação inclusiva: a implementação de uma cultura profissional colaborativa, capaz de
tornar a educação de e para todos uma vivência possível.
educativa, nacionais e internacionais. Assim, à Escola, se colocam novos desafios:
Educar na e para a diversidade; Educar na e para a pluriculturalidade. Contudo, passar
dos ideais às práticas nem sempre se tem revelado uma tarefa simples. Esta
complexidade acentua-se quando a Escola tem de educar alunos em condição de
Necessidades Educativas Especiais. Pertencendo a culturas minoritárias, como a
cultura surda, apresentam mundivisões diferentes, nem sempre tidas em conta nas
práticas educacionais. Falantes de uma língua materna minoritária (LGP) vêem-se
confrontados com barreiras linguísticas próprias de quem é ensinado numa segunda
língua e, por consequência, com barreiras epistemognoseológicas que pouco parecem
favorecer as suas aprendizagens académicas e a sua inclusão na sociedade de que
fazem parte, porque maioritariamente ouvinte. Pretendemos discutir os resultados de
uma investigação em curso, numa escola secundária de Lisboa, que inclui uma
comunidade de alunos adultos surdos, frequentando o ensino recorrente nocturno.
Assumindo uma metodologia de estudos de caso, inserida no paradigma
interpretativo, apresentaremos dois casos que nos permitem compreender até que
ponto, para estes alunos, a mediação da linguagem oral e da cultura de escola se revela
constrangedora do seu dizer, do seu agir e do seu sentir, porque feita numa língua que
não a sua. Estes resultados levam-nos a questionar em que medida a educação, ao
invés de evidenciar a riqueza das diferenças culturais, insiste em adoptar a
homogeneidade generalizada e inquestionável de um determinado modelo cultural
como único e referência para os demais.
por documentos de política educativa (ME, 2008), sublinhando a necessidade de
garantir equidade no acesso a uma educação de qualidade (César & Ainscow, 2006).
Estes princípios assumem particular importância para os estudantes adultos surdos,
que precocemente abandonaram a Escola e a ela regressaram para (re)construir
projectos académicos e profissionais. São disso exemplo os que frequentam o ensino
secundário recorrente noturno. Contudo, passar dos princípios às práticas revela-se
complexo. Participantes de uma cultura e falantes de uma língua (Língua Gestual
Portuguesa - LGP) minoritárias, muitos dos estudantes adultos surdos continuam a
experienciar barreiras ao acesso ao sucesso escolar e social (Melro, 2014; Melro &
César, 2009, 2012, 2013). Focamo-nos nos processos de inclusão destes estudantes
(N=11) no ensino secundário recorrente noturno, numa escola pública de Lisboa.
Assumimos uma abordagem interpretativa (Denzin & Lincoln, 1998) e um design de
estudo de caso intrínseco (Stake, 1995/2005). Os participantes são aqueles
estudantes, os pares ouvintes (N=6), os professores e outros agentes educativos
significativos (N=47), bem como o investigador, enquanto observador participante. Osinstrumentos de recolha de dados são: questionários, tarefas de inspiração projectiva,
entrevistas, observação participante, recolha documental e conversas informais.
Recorremos a uma análise de conteúdo narrativa (Clandinin & Connelly, 1998),
fazendo emergir categorias indutivas de análise. Os resultados iluminam a
necessidade de as escolas valorizarem a diversidade, nomeadamente as
características dos estudantes adultos surdos, assumindo sustentadamente a inclusão
como elemento-chave do seu empowerment, individual e social.
Melro, J. (2014). DO GESTO À VOZ: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A INCLUSÃO DE ESTUDANTES SURDOS NO ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE NOTURNO (Tese de doutroamento, documento policopiado). Lisboa: Universidade de Lisboa.
(Doctoral Thesis presented to University of Lisbon)
Inclusive education (IE) is a main topic in Portuguese policy documents (ME,2008). According to it, all students should experience equity in their access to a quality education (César & Ainscow, 2006). These principles are particularly important for adult Deaf students who are attending the evening classes at mainstream schools in order to get a second chance education. After an early school dropout, their return to school is seen
as an opportunity to have a better educational and professional future. However, putting principles into practice is a complex process. As they participate in minority culture and use a different language (Portuguese Sign Language - PSL), some adult Deaf students continue experiencing barriers to their access to school and social achievement (Melro &
César, 2009a, 2012, 2013).
We focus on the inclusion processes of adult Deaf students (N=11) who were getting a second chance education at a public mainstream secondary school in Lisbon. We assume an interpretative approach (Denzin, 2000) and developed an intrinsic case study (Stake, 1995/2005). The participants were the aforementioned students, their hearing classmates (N=6), their teachers, other significant educational agents (N=44), and
the researcher, who acted as participant observer. Data collecting instruments included questionnaires, tasks inspired by projective techniques, interviews, observation, documents and informal conversations. Data were treated through a narrative content analysis (Clandinin & Connelly, 1998), from which inductive categories emerged.
The empirical evidences illuminate that: (1) some forms of negative discrimination and barriers in the Deaf life trajectories of participation (LTP); (2) the differences and similarities between these LTP and those of these hearing students; and
(3) the need for the school to assert itself as an inclusive and intercultural space/time, developing organizational, supervising and pedagogical processes that value the sociocultural diversity of Deaf adult students and treating inclusion as a key element of their empowerment.
Keywords: Inclusive education; diversity; Deaf; supervision; recurrent education;
empowerment.
onde discute várias temáticas, de entre as quais a Educação de Surdos em Portugal.
21 de Dezembro de 2017
Acessar aqui https://www.facebook.com/radiomovimentopt/videos/538792429789062/